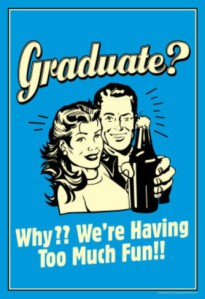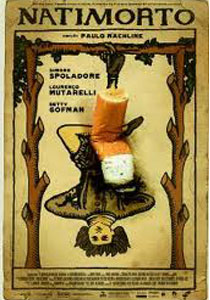Existe uma polarização, um muro que não caiu em Berlim, quando se “mexe” com política no Brasil. Esse assunto, aliás, não se discute por aqui. É algo pra ser cutucado, contornado, algo com que “se mexe”. Mas, já que o Facebook nos força a ver todo laico dia uma louvável, embora parva, tentativa de debate, aproveitemos a oportunidade para entender o posicionamento de cada um. Até pra não ficar em posição comprometedora.
Eu sei, eu sei, direita e esquerda são conceitos aparentemente ultrapassados, extremos pretos e brancos numa paleta que tem mais de cinquenta tons de cinza. São dois lados de uma guerra que esfriou, eu sei. Mas a culpa não é minha: se todo mundo insiste em se organizar assim, do sistema político à cor da roupa, dos hábitos de consumo à legenda do partido, então temos que partir desta pedra de toque para, se for o caso, praticarmos a teoria pós-moderna que alguém eventualmente queira apontar contra a minha cabeça.
Então estamos polarizados entre direita e esquerda que são, pura e simplesmente, formas de governo. De governo. Não são formas de cultura, nem de sociedade. Não são modos de vida, não determinam como alguém deve arrumar o cabelo nem o que pode comprar. Se elas viraram isso tudo é o primeiro sinal de que, coitadas, estão transviadas. Ou assim me parecem. Posicionamento político é um entre os milhares de fatores que compõem a vida social. A preponderância absoluta de qualquer desses fatores (seja política, religião, raça ou pro
fissão, por exemplo), acaba em tragédia, não tem jeito.
A questão
Mas persistem a direita e a esquerda. E, grosso modo, elas podem ser definidas assim:
- Direita – Entende que os indivíduos e suas instituições, guardadas as proporções, devem ser maiores que o Estado.
- Esquerda – Entende que o Estado deve ser, guardadas as proporções, maior que os indivíduos e suas instituições.

Nenhuma das duas coisas tem a ver com Estados Unidos ou com Rússia, com ditadura ou com democracia. Tem a ver apenas com pontos de vista políticos. Política, do grego, pólis (cidade), é, em sua definição mais clássica, aquilo que trata da organização da vida em sociedade. Portanto, tem a ver com Estados, instituições, governos. Assim como tem a ver com casas, famílias e indivíduos. As duas coisas são meio que interdependentes, como você bem deve saber. Quem discordar, perde automaticamente a razão ao manifestar amor, ódio, contrariedade ou apoio a qualquer coisa relacionada a política.
Pois bem. Ao escolher se posicionar em um dos dois polos acima, você também escolhe a consequência deste posicionamento, que tem, como tudo no mundo, prós e contras. Comecemos pelos prós.
À direita, idealmente, você contaria com um Estado “mínimo”, ou seja, menos gente cuidando de leis e da sua vida – e a vida dos outros. Também haveria menos impostos, porque impostos servem para sustentar os mecanismos do Estado, que, nesse caso, recrudesceria ao mínimo necessário. Outro ponto positivo seria contar com menos burocracia, que é um mecanismo de controle estatal, tornando mais simples que indivíduos empreendam.
À esquerda, idealmente, o Estado toma conta de seus cidadãos. Portanto, você precisaria se preocupar menos com o seu futuro e o dos seus, já que haveria mecanismos e programas que garantiriam condições mínimas para todos. Serviços básicos como saúde, educação e transportes seriam subsidiados pelo Estado e estariam ao alcance de todos.
O problema
 Até aqui, parece claro, não há nada que torne pessoas à direita ou à esquerda diferentes. São apenas maneiras diversas de assegurar a mesma coisa: prosperidade para um povo. Mas pontos positivos não fazem desaparecer os negativos. E contrapontos devem ser considerados.
Até aqui, parece claro, não há nada que torne pessoas à direita ou à esquerda diferentes. São apenas maneiras diversas de assegurar a mesma coisa: prosperidade para um povo. Mas pontos positivos não fazem desaparecer os negativos. E contrapontos devem ser considerados.
Na direita, idealmente, não há garantias do Estado para indivíduos. O resultado mais comum é a geração de uma parcela da população mais favorecida e uma menos favorecida. Condição que, se levada ao extremo, pode gerar desigualdades sociais intensas. Outro ponto é que, mais sujeito a interesses individuais, o mercado se desregule e torne a economia instável e susceptível a grandes crises, o que só aumentaria a desigualdade social.
Na esquerda, idealmente, paga-se uma carga tributária muito alta, desapoderando o indivíduo. Poupar também se torna mais oneroso, já que a economia se apoia principalmente em forças internas. O resultado é uma dificuldade de ascensão social que, em casos de desigualdade extrema, pode ser um ciclo de perpetuação da pobreza. O controle e a indexação da economia pelo Estado só agrava este quadro, cristalizando a desigualdade social.
Agora há menos diferenças ainda entre as pessoas de um lado e do outro. O problema delas é, basicamente, o mesmo: escassez. Ou, para falar claro, pobreza. Não importa o caminho percorrido, o produto final vai ser gente pobre. E de pobre, ninguém gosta. Os da direita não querem que eles existam. Os da esquerda querem torná-los “menos pobres”, incluí-los, enfim, acabar com a existência deles.
E, se foi por caminhos diversos que ambos chegaram a pobreza, é por caminhos diversos que ambos pretendem sair.
O espelho
 Vamos brincar de espelho e seguir ao contrário, apenas para que fique claro que a pobreza revira não apenas os nossos estômagos, mas também o texto. Se até ela viemos com a direita na frente, por uma questão alfabética, dela em diante seguimos com a esquerda primeiro, pra ver se equilibra.
Vamos brincar de espelho e seguir ao contrário, apenas para que fique claro que a pobreza revira não apenas os nossos estômagos, mas também o texto. Se até ela viemos com a direita na frente, por uma questão alfabética, dela em diante seguimos com a esquerda primeiro, pra ver se equilibra.
Quem está à esquerda, como é fácil imaginar, tem que contar com o Estado para combater a pobreza. Programas de combate à fome, de aceleração do crescimento, pacotes de fomento à economia e ao empreendedorismo. É de TODOS a responsabilidade pela pobreza. Idealmente, o esquerdista aceita pagar mais (impostos) para que resolvam por ele os problemas da polis. Resumo da ópera: O indivíduo de esquerda emprega dinheiro para ver o problema resolvido.
Finalmente, quem está à direita, vai ter que contar com os indivíduos e suas instituições para erradicar a pobreza. Não vai ter Estado para resolver. Organizações não-governamentais são, strictu sensu , de direita, pois significa que a sociedade civil (e não o Estado) está se mobilizando para resolver um problema. É de TODOS a responsabilidade pela riqueza. Idealmente, o direitista entende que precisa trabalhar para resolver os problemas das polis. Resumo da ópera: O indivíduo de direita emprega trabalho pra ver o problema resolvido.
Embananou: o que era individualista agora parece coletivista e vice-versa, certo? Basta uma adversidade para torcer conceitos…
A solução
 Foi preciso fazer toda essa viagem para que, chegado a esse ponto, o raciocínio fique bastante claro: quem atribui características “altruístas” ou “egoístas” a posicionamentos políticos, quem lhes dá cores “boas” ou “más” não são suas premissas e filosofias, mas seus usos culturais.
Foi preciso fazer toda essa viagem para que, chegado a esse ponto, o raciocínio fique bastante claro: quem atribui características “altruístas” ou “egoístas” a posicionamentos políticos, quem lhes dá cores “boas” ou “más” não são suas premissas e filosofias, mas seus usos culturais.
Incomoda pensar nisso mas, no que tange a resolução de problemas a partir da perspectiva do indivíduo, filosofias de esquerda são radicalmente mais individualistas que as de direita. Enquanto as de direita, por outro lado, sob a mesma perspectiva, pressupõe uma dependência forçada entre indivíduos da mesma sociedade.
E não é difícil achar um exemplo: basta pensar no quanto a sociedade norte-americana (um dos maiores exemplos de sociedade de direita do mundo atual) se mobiliza em eventos de caridade. E no quanto a sociedade chinesa (se não o maior, o mais emblemático exemplo de sociedade de esquerda contemporânea) não. Reducionista, mas preciso. Eventos filantrópicos são perfeitamente adequados à “Ética protestante e o espírito do capitalismo”. Políticas de bem estar social se encaixam com facilidade a “O capital”.
Pensar nisso é importante para, por exemplo, decidir em quem votar ou o que compartilhar no Facebook. Talvez uma boa forma de decidir se você é de direita ou de esquerda seja pensar: como você deseja resolver problemas como a pobreza? Com seu trabalho ou com seu dinheiro?
O umbigo
 Se a resposta para a pergunta acima foi “nenhum dos dois”, você talvez não seja nem de direita, nem de esquerda. Pode ser que seja pós-moderno. Ou que esteja entre os dois.
Se a resposta para a pergunta acima foi “nenhum dos dois”, você talvez não seja nem de direita, nem de esquerda. Pode ser que seja pós-moderno. Ou que esteja entre os dois.
A verdade é que, embora nos polarizemos em entre direita e esquerda em debates, nada do que existe hoje, especialmente no Brasil, se encaixa em nenhuma das duas coisas. Temos governos que financiam ongs. Precisa dizer mais?
O problema é que a esquizofrenia política, quando deságua na esfera cultural, produz preconceitos e ideias irritantes e ignorantes, que se multiplicam com facilidade muito maior do que o esclarecimento. Nesta cepa estão as ideias de que, por exemplo, esquerda é sinônimo de regimes totalitários, de gente barbuda e suja, de cultura libertária, de baderna e de revolução. Ou, por outro lado, de que direita é sinônimo de regimes ditatoriais, de gente coxinha, de conservadorismo cultural, de repressão e de golpe.
Na verdade, isso tudo é produto de um imaginário produzido por gente que construiu a nossa política – e a de um bando de países – e que, de política, no sentido apontado lá em cima, tem muito pouco. Gente que caga pra polis. Quando você pensa em Collor, acha que ele decidiria combater a pobreza com seu dinheiro ou seu trabalho? E Itamar Franco? FHC? Lula? Dilma? D. João VI?
A maioria dos nossos políticos – e das pessoas que o seguem – não se caracterizam, como fazem crer seus discursos, por direita ou esquerda. Eles estão em algum lugar no meio disso. O umbigo.
Quem é partidário do umbigo vai se dizer de esquerda e militar nas ruas, levantar bandeira e dar gritos de ordem, louco para virar o Estado e resolver o problema com as próprias mãos. Ou vai compartilhar mensagem de ódio contra a Dilma e se dizer de direita ao mesmo tempo em que espera que o Estado resolva os problemas do país.
O umbiguista sofre de uma síndrome de Tourette política que faz com que ele grite, berre, compartilhe, ao menor sinal do assunto. Importa mais o barulho do que o seu conteúdo. Ele não quer saber da pobreza, ele quer que notem o problema. No caso, o dele. O umbiguista quer aqui e quer agora. E não abre mão nem do seu dinheiro, nem do seu tempo. Porque “quando ele chegou já tava assim”. Ele é vítima. Sempre. O umbiguista é a parcela política mais representativa do Brasil.
O umbigo fica entre a direita e a esquerda, sempre pronto para lembrar que, não importa o tamanho da polis, somos um bando de primatas, mamíferos e escravos de instintos muito menos refinados do que essa tal ciência política. Alguns de nós, entretanto, insistem em “mexer” com ela…